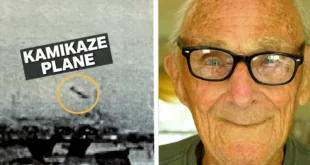Era janeiro de 1942 quando Ruth Louise Kinzeler, capitã do Exército dos Estados Unidos, subiu a bordo do USAT “Thomas H. Barry” em Nova York. A Segunda Guerra Mundial fervia mundo afora, e ela, junto às enfermeiras do 4º Hospital Geral, partia para o front sem saber o que encontraria. Seu “Pequeno Livro Preto”, um diário simples e verdadeiro, guarda os dias de uma mulher que enfrentou o peso da guerra com coragem, um toque de humor e os olhos atentos ao que havia de humano em meio ao caos. Este artigo mergulha nos relatos de Ruth, com foco nos momentos da guerra e nas experiências que marcaram sua jornada, num texto claro, fácil de ler e cheio de vida, como ela mesma era.

Ruth não escrevia pra impressionar. Seu diário é direto, quase como se ela estivesse contando uma história pra alguém na varanda de casa. Nada de invenção ou floreios – só o que viu, sentiu e viveu. Vamos acompanhar essa mulher pelos mares, pelas bases em Melbourne e, sobretudo, pelos dias duros em Nova Guiné, onde a guerra bateu mais forte. É um pedaço da história visto de perto, com o cheiro de antisséptico, o barulho das bombas ao longe e a saudade de casa que nunca a largou.
A Travessia e os Primeiros Dias
O dia 20 de janeiro de 1942 começou cedo. “Embarcamos às 5h15. Betty e eu fomos a segunda e a terceira a subir”, anotou Ruth. O navio, antes chamado SS Oriente, agora levava o 4º Hospital Geral rumo ao desconhecido. Na cabine 209, com Betty, Jane Ingram e Gladys Hanes, ela arrumou as malas e acertou os horários de banho – uma rotina que logo seria testada pelo mar. Três dias depois, zarparam. “Saímos às 5h30. Fui pro convés depois do café e vi os destroieres por todos os lados. Uma imagem que não esqueço nunca!”, escreveu. O mar balançava, e o enjoo veio com força. “Tentei ‘mente sobre matéria’, mas não adiantou. Passei mal pra caramba na noite passada”, confessou, com um riso entre as linhas.

A travessia pelo Atlântico tinha seus sustos. No dia 25, o comboio se espalhou após boatos de um cargueiro explodido. “Saímos no convés e só tinha um navio à vista. Até as 17h, tudo voltou ao normal”, registrou ela. Ruth passava horas olhando o mar, conversando com o Padre McKeown, o capelão do navio. “Falamos de tudo, da guerra à religião. Ele acha graça de eu querer escrever um livro, mas perguntou se dedicaria a ele”, contou. Entre vacinas – febre amarela, tifo – e banhos improvisados com água salgada, ela seguia, anotando cada pedaço da viagem.
No dia 31, chegaram ao Panamá. “Entramos no Canal do Panamá! Precisei me beliscar pra acreditar”, escreveu, encantada. O navio cruzou as eclusas de Gatún, subindo três níveis em poucas horas. “É uma obra que impressiona. Vimos palmeiras de cacau, bananeiras, flores roxas nas encostas. Soldados por todo lado, dirigíveis vigiando as eclusas”, descreveu. Em Balboa, já no Pacífico, o calor apertou. “Peguei o pior sol da minha vida, mas valeu cada bolha”, brincou. O porto era simples, com colinas verdes e palmeiras esparsas. “Dormimos com as escotilhas abertas, finalmente”, anotou, aliviada.

A viagem seguiu, com paradas como Bora Bora, onde a beleza da ilha a pegou de surpresa. “A água parecia um arco-íris, com verdes, roxos e azuis vivos. Trocamos sabonete por saias de palha com os nativos”, escreveu no dia 14 de fevereiro. Era um respiro antes do que viria.
Melbourne – O Começo do Trabalho
Em 26 de fevereiro de 1942, Ruth pisou em Melbourne, Austrália. “Chegamos às 10h30 em Port Phillips Bay. Tudo era rumor até agora, mas aqui é real”, registrou. O 4º Hospital Geral se instalou no Royal Melbourne Hospital, e ela foi levada ao Victoria Palace Hotel. “Betty e eu temos um quarto com uma pia no canto. É simpático”, anotou. Os primeiros meses foram de adaptação – frio, blackouts e a espera por ação. “Sinto falta de alguém me dizer se estou indo bem ou mal”, desabafou em abril.

O trabalho começou a esquentar em maio, quando chegaram enfermeiras evacuadas de Bataan. “Elas vieram com quase nada, só calças, camisas e uma bolsa. As histórias que contam – nossa!”, escreveu Ruth. Eram relatos de combates intensos, fome e resistência, que a fizeram enxergar sua própria sorte. “Ajudamos a equipá-las hoje. Agora me sinto mais conformada com o que temos”, refletiu.
Os pacientes começaram a chegar, muitos com malária. “Dois morreram essa semana, o primeiro em quatro semanas de hospital aberto. Me deixa tão brava! Trens, caminhões e brigas estão acabando com nossos soldados antes que a guerra os pegue”, reclamou em maio. Ruth cuidava dos meninos – como os chamava – com um carinho que transborda nas páginas. “Eles são divertidos, os da ortopedia são os melhores”, contou em julho.

A guerra ainda parecia distante em Melbourne, mas os sinais estavam lá. “Vimos oito holofotes varrendo o céu à noite. Tomara que nunca achem o que procuram”, escreveu em março. Entre turnos, ela costurava, lia e tentava manter o ânimo. “O correio demora demais. Se eu recebesse uma carta de casa, já ajudava”, lamentou em maio.
Nova Guiné – O Coração da Guerra
Em 1944, tudo mudou. O 4º Hospital Geral foi para Nova Guiné, onde a guerra era real e imediata. “Agora sim, estamos indo pra guerra de verdade!”, escreveu Ruth em 19 de janeiro, exausta, mas pronta. O hospital foi montado num antigo campo de aviação japonês, tomado quatro meses antes. “Chegamos dia 15 de abril. Os homens gritavam e aplaudiam quando descemos a prancha. Parecíamos uns cavalos de carga com tanto equipamento”, lembrou.

Os pacientes chegaram rápido. “Nove dias depois, já tínhamos 400. Montamos tendas extras. É enfermagem bruta agora!”, anotou em 8 de maio. A malária dominava. “Admitimos 20 numa hora. Um loiro grandão disse baixinho: ‘Queria estar em casa’. Dá vontade de chorar”, confessou ela no dia 13 de janeiro de 1943, ainda em Melbourne, mas um prenúncio do que veria mais tarde. Em Nova Guiné, eram centenas de meninos assim – “média de 22 anos, deveriam estar brincando no parque, não aqui”, repetiu em 13 de janeiro de 1944.

O trabalho era intenso. “Entrevistei 85 homens hoje pra colocar em alas e clínicas. Tô exausta!”, escreveu em 20 de maio. Ruth organizava tudo: leitos, pessoal, suprimentos. “Comecei um canteiro de flores com picareta e pá, só pra rir um pouco”, contou em 9 de junho. A vida era dura – tendas quentes, latrinas coletivas de oito lugares, mosquitos. “Os banheiros entopem, agora temos um ‘oito buracos’. Dá pra pensar em músicas como ‘de costas pra costas’ ou ‘bochecha com bochecha’”, brincou, mostrando como o humor a salvava.

Os combates estavam perto. “Evacuamos 200 ontem, mas não chega carga nova há semanas”, registrou em 26 de julho. A espera irritava. “Todo mundo tá de mau humor. Começamos mil coisas e terminamos poucas. Ainda esperamos barracas novas, mas a encanação atrasa tudo”, reclamou. Os rumores corriam: “Dizem que o 4º Hospital Geral vai ser dispensado e assumir um hospital em Cleveland. Tomara!”, escreveu em 29 de julho.

A guerra marcava Ruth fundo. Em 29 de novembro, uma carta devolvida a abalou. “Minha carta pro Lou voltou marcada ‘FALECIDO’. Não acredito. Ele era jovem, cheio de vida, recém-capitão. Fiquei mais apegada a ele do que admitia”, confessou, com dor. Lou Polcan, um amor breve, ficou na memória como um eco da guerra que levava tudo.
Os dias em Nova Guiné eram um teste. “Chegaram baixas das Filipinas em março de 1945. Estamos ocupados, mas as meninas estão esgotadas”, escreveu em 13 de março. O hospital recebia feridos direto do front – queimaduras, fraturas, infecções. “É o trabalho que viemos fazer, mas cansa pra caramba”, admitiu. Um alerta de ataque aéreo veio em dezembro de 1944, mas ninguém se agitou. “Queria que jogassem uma bombinha no porto, só pra dar um susto”, brincou, mostrando o cansaço que já virava rotina.
O Fim da Linha
A rendição japonesa veio em 14 de agosto de 1945. “Os japoneses se renderam!”, anotou Ruth, aliviada e confusa. Ela deixou Nova Guiné em 23 de maio, chegou a San Francisco em 11 de junho e, após uma travessia longa, pisou em casa. “Foram 45 dias de licença maravilhosos com a família”, escreveu em 5 de agosto, em Camp Atterbury. A guerra acabou, mas a volta foi agridoce. “Chegamos de trem, mas nos receberam com ‘O que vocês estão fazendo aqui?’”, contou em 24 de agosto.
Ruth saiu do Exército em 13 de setembro de 1945. “Separada do serviço, agora é pra casa de vez”, registrou. Foram três anos e meio de guerra, de mares bravos a tendas quentes, de meninos morrendo a flores teimosas que ela plantava. Seu diário é um grito quieto, uma janela pra quem ela foi – uma mulher que cuidou, riu, chorou e sobreviveu, carregando a guerra no peito e a humanidade nas mãos.
 Ecos da Segunda Guerra O Melhor conteúdo sobre a Segunda Guerra em Português
Ecos da Segunda Guerra O Melhor conteúdo sobre a Segunda Guerra em Português